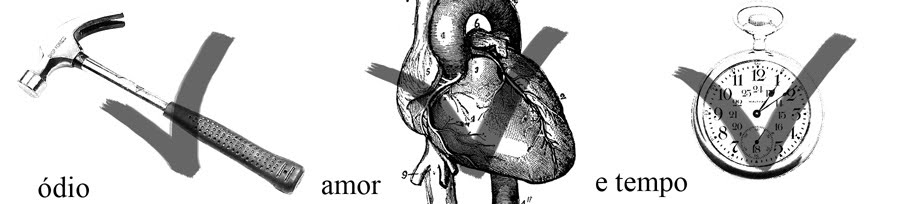- Aqui estão suas rosquinhas – disse Joaquim, o padeiro, entregando um pacote volumoso com nódoas de gordura a Clóvis, cliente assíduo.
- Obrigado – respondeu. Dirigiu-se ao caixa e pagou.
Clóvis acordava cedo e ia direto à padaria. Aos poucos, extasiado pelos aromas, munia-se de quitutes. Já tinha fritado ovos e bacon, mas precisava de algo doce. Hoje, levava consigo 14 rosquinhas tamanho médio polvilhadas de açúcar.
Seus passos eram lentos. Seu suor, abundante. Clóvis olhava abaixo do pescoço, e por mais refrescantes que fossem as roupas, sempre estavam ensopadas. Ele parecia derreter, mas sem perder o volume.
Não conhecia quase ninguém no bairro. De manhã cedinho, voltando da padaria de seu Joaquim, encontrava com bastante gente que lhe acenava: garotos musculosos praticando cooper, velhas senhoras com suas maquiagens fétidas e cachorros podados. Se lhe associassem a algo, certamente seria às rosquinhas. Clóvis e suas rosquinhas. Pelo menos era algo que valia a pena.
Sentia a caminhada até casa cada vez mais cansativa. A idade chegando – 30 anos comemorados semana passada – e o corpo pesando. O pensamento era paradoxal, mas Clóvis parecia flutuar, como um astronauta no espaço. Astronautas comem pílulas. Ele estava na terra, comia coisas mais densas.
Enxugou com o braço direito as gotas de suor que brotavam de sua testa. O outro braço segurava firme o saco de rosquinhas. Ainda quentes, elas exalavam um aroma irresistível que penetrava em seu nariz.
Ao caminhar, as coxas de Clóvis embatiam-se. Uma querendo ocupar o espaço da outra, elas lutavam por um vácuo no corpo estufado. Um embate de texturas gelatinosas, convulsivas, lembrando os grandes pedaços de carne que balançavam de lá para cá nos ganchos dos frigoríficos.
- Clóvis, clóvis! - disse uma voz vinda de trás.
Uma mão robusta apertou seu ombro e o fez dar meia-volta.
- Há quanto tempo! - continuou o homem. - O que anda fazendo da vida? Ainda trabalhando naquele serviço de atendimento ao consumidor? Por que não aparece para tomarmos uns chopes? E o churrasco? Você ainda faz aquele churrasco divino? Aquilo era mais do que uma arte!
Quem era aquele homem que o encheu de perguntas? Será que ele havia se enganado, confundido Clóvis com algum amigo, algum parente? Não. Pensando bem, ele tinha um rosto familiar. O rosto do homem estava arquivado nas lembranças de anos atrás... mas, quem seria? Claro! Como pôde esquecer da pinta preta, próxima ao queixo, de onde saiam três fiapos tesos.
- É mesmo. Há quanto tempo, Augusto.
A parte difícil ele já passou: reconheceu aquele primo distante com quem fez questão de cortar relações há anos. Agora era pensar em como responder tudo aquilo de forma rápida e evitar mais perguntas. Só o que valia agora era chegar em casa e saborear aquelas rosquinhas crescidas.
- Eu não trabalho mais lá e ando um pouco sem tempo para sair de casa. Agora, se me permite, tenho de ir - Clóvis disse, conciso, e retornou ao seu caminho. Dados alguns passos, Augusto, com um sorriso morno no rosto, falou:
- O que esconde aí, Clóvis?
A pergunta soava mais como um pedido, pois no saco claramente lia-se: “rosquinhas”.
Clóvis voltou, andou lentamente, chegou próximo a Augusto e respondeu:
- São só rosquinhas. Sempre as compro em uma padaria que fica a duas quadras daqui.
- Posso experimentar uma? - disse Augusto, com os olhos fitados no pacote de rosquinhas.
- Sim - Clóvis disse, sem tanto ânimo. Desembrulhou o pacote e aproximou-o de Augusto: - Tome.
Augusto tirou de dentro uma rosquinha, deu uma mordida e disse:
- Huuummm... São maravilhosas! - Lambeu um resto do recheio que se esparramara pelo canto da boca e tornou a olhar Clóvis.
- Eu gosto delas - ele disse.
Clóvis sentia um desejo incontrolável de comê-las, todas! Agora! Mas não podia, aquelas todas não existiam mais. Eram apenas treze, não mais quatorze. Ele também não podia comer tudo, ali, na rua. Tinha primeiro de chegar em casa, no seu recinto sagrado, envolto de aromas, de embalagens, de gostos sintéticos, de latas para se abrir, de comida de ontem, de hoje e amanhã. Comer... Ah! Comer... É a resposta para todos os desejos. Todas as frustrações, deglutidas, engolidas, digeridas. Todos os sabores e prazeres dentro de seu corpo, revolvendo-se até deixá-lo para mais uma carga de tudo isso.
- Foi um prazer encontrar com você, Augusto, mas marquei com o médico daqui a meia hora e tenho de ir.
Não existia médico nenhum, muito menos algum prazer obtido em ter se encontrado com Augusto.
- Ah! Não faz isso comigo não. A gente não se vê há séculos e você vem com esse papo de que precisa ir? Vai fazer o que no médico? Por acaso algum exame de próstata antecipado? Hahaha... – Augusto gargalhou, deixando ainda mais evidente seus enormes dentes, que sempre ficavam de fora da boca.
“Muito engraçado”, Clóvis disse para si mesmo. – Não... Eu só quero ter informações sobre um novo tipo de dieta que ele me indicou.
- Clóvis! Você só pode estar de brincadeira, é isso. Nunca foi de se preocupar com dietas. Gostava de aproveitar a vida, de beber e se esbaldar num churrasco e agora me vem com essa... – Augusto balançava a cabeça em tom de reprovação.
- Eu preciso disso, senão, nem sei mais quanto tempo ainda tenho de vida.
Clóvis não se preocupava exatamente quanto tempo permaneceria vivo, mas sim, quanto tempo permaneceria comendo. Um compromisso inadiável era a desculpa perfeita para, nesse momento, livrar-se de Augusto.
Olhando-o de cima a baixo, até mesmo um imprudente como Augusto percebia ao que Clóvis se referia.
- Não exagera, vai... São só... São só alguns quilinhos. Você compra um daqueles aparelhos de ginástica da TV e perde tudo em uma semana – disse Augusto, tentando amenizar a situação.
- Olha, obrigado pelo conselho – Clóvis disse, olhando nos olhos de Augusto, - mas eu prefiro ter certeza de que... Você sabe... Esses pneuzinhos não estão me afetando tanto assim. Agora, preciso ir.
Clóvis direcionou-se a seu caminho e tornou a andar. Augusto ficou parado, contemplativo, solitário, como se agora Clóvis fosse seu único amigo.
- E a Soninha? – Augusto gritou, desesperado por mais alguns instantes de conversa.
Clóvis voltou para responder:
- O que tem a Soninha? – Perguntou, ríspido.
- Sabe, a Soninha, aquela garota com quem você dizia que costumava sair... – Augusto acrescentou, como se tentasse ganhar tempo para dizer algo.
- Não sei mais dela.
Clóvis realmente não sabia nada sobre Soninha e nem nunca soube. Soninha nunca existiu. Era só uma desculpa usada por Clóvis para ludibriar seus amigos e mostrar que ele fazia pelo menos algum sucesso com as mulheres.
- Ah, que pena! Tem seu telefone? – perguntou excitado – Porque, se você não se importar, talvez eu possa marcar algo com ela, um jantar, ou um cinema. Sempre me falou tão bem dela que fiquei curioso. Mas claro, tudo, se você não se importar...
Clóvis meneou a cabeça, sugerindo que não se importava.
- Eu juro que não me importaria, mas infelizmente não tenho mais o número de telefone dela. Fizemos questão de cortar qualquer tipo de relação na última vez que nos vimos. Agora é sério, Augusto, tenho de ir.
Augusto agradeceu a “boa vontade” de Clóvis e deu-lhe um abraço brusco, fazendo-lhe derrubar o pacote de rosquinhas.
- Não, não tem problema – Clóvis adiantou, apanhando o pacote do chão e dando uns tapinhas para tirar a areia.
Os dois finalmente tornaram a seguir seus rumos. Clóvis, aliviado por ter se livrado de uma das pessoas mais inconvenientes que ele já conhecera.
“Lar, doce lar”, ele pensou ao entrar e fechar a porta de sua casa.
E não era força de expressão. Era mesmo um lar com açúcar para todos os lados. Não só açúcar, mas, corantes, aromas, conservantes, sabores artificiais e tudo mais que engordasse e fizesse mal.
Clóvis pegou o controle da TV, que tinha os botões todos desbotados, engordurados pelas suas mãos sempre impregnadas de comida, e ligou a televisão. Nada de atrativo no ar, porém, sempre era mais prazeroso comer em frente à tela da TV. Esse era o ambiente ideal para se acomodar, relaxar, afundar na poltrona e ser acometido por uma sonolência que não o deixava dormir, somente administrava um estado apático que ia se desdobrando em uma linha de tempo inimaginável. A passividade ia se multiplicando, se abrindo, como um leque. Tomar qualquer atitude, que não fosse comer e manter os olhos entreabertos, era sofrivelmente difícil. Por isso mesmo, para desocupar a bexiga, ele esperava horas e horas. Já passou por sua mente usar uma sonda para as necessidades fisiológicas. Acabou desconsiderando esse pensamento bobo.
Na sala, havia um grande espelho arredondado, com uma bela moldura de madeira, talhada à mão. Herança de sua bisavó. Sem conseguir distrair-se em frente à televisão, Clóvis olhou para o lado, viu parte de seu rosto refletida no espelho. Ele não lembrava ser tão rechonchudo assim. Afastou-se mais, com o intuito de se ver completamente. As maçãs do rosto arredondadas e lustrosas brilhavam com o pouco de sol que entrava pelas frestas da janela. Clóvis chegou mais perto, e mais perto... e mais perto. Parecia enorme. Cada vez mais enorme, ao contrário de seu pênis. Ele lembrou-se, sem complexo algum, mas isso ocorreu em sua mente. Não pôde evitar. Baixou as calças. Lembrou-se há quanto tempo não fazia sexo, há quanto tempo alguém não o desejava. Procurou, espremendo a mão por entre os pelos pubianos até achar o pênis. Clóvis não tinha uma boa ferramenta, mas também era mais romântico do que isso. Até considerava o sexo um supérfluo.
Vestiu-se e foi ao computador. No lixo eletrônico, havia um e-mail, uma dessas mensagens em massa, sobre amor. Falava de pessoas solitárias encontrarem outras pessoas solitárias, marcarem encontros, terem uma vida social e afetiva normal. No e-mail também, uma montagem malfeita, com galãs de sorrisos esbranquiçados e lindas mulheres também sorrindo.
Clicou no centro, em um dos casais felizes da montagem. Um site se abriu e ele entrou no chat. A maioria dos participantes eram homens, que, empolgados, falavam sem parar. O texto corria rápido na tela e tudo formava uma grande confusão visual.
Lá pelo final da lista de usuários, Clóvis encontrou uma moça que usava o apelido de “Patrícia Abajur”.
- Patrícia Abajur? – perguntou ele, aproveitando a deixa para iniciar uma conversa.
- Sim. É apenas um trocadilho, no sentido que eu passo todo o tempo acessa...
- Engraçado o seu trocadilho – disse, enquanto fora do mundo virtual tudo transmitia o mais absoluto e inabalável silêncio.
- Talvez ele seja mais enigmático do que engraçado, já que você é a sexta pessoa que me pergunta isso hoje.
Clóvis estendeu-se a pensar no que iria responder já que seu pressentimento dizia que a conversa poderia tomar um rumo não muito confortável.
- Me desculpe – Pronto. Era simples e objetivo. Mostrar que sabia se retratar, mesmo tratando-se de uma futilidade, era um bom sinal.
A conversa foi seguindo, morna, constante, mas ainda com um fio de esperança unindo as palavras dos dois. Patrícia estava enfadada, porém, dessa vez, não encontrou pela frente um maníaco sexual.
As velhas e redundantes perguntas de sempre brotavam sem sentido algum. Eram apenas formalidades esperando algo mais interessante, só que Clóvis insistia:
- O que você costuma fazer pra se divertir?
- Ah, não são muitas coisas, mas quando tenho tempo, costumo ir a algumas boates aqui por perto – respondeu Patrícia, quase de imediato.
Antes que Clóvis pudesse formular uma próxima pergunta, ela disse:
- E você, o que faz para se divertir?
“Eu, o que eu faço para me divertir?”, pensou. “Hum... São tantas coisas, afinal, eu sempre estou de folga.” “O que eu posso dizer que faço para me divertir? Videogame, não, não... Pôquer, também não... Nem dormir, nem praguejar contra os vizinhos. É mais difícil do que eu imaginava... Já sei! É isso!”.
- Eu sempre vou a alguns restaurantes que conheço. Gosto de experimentar as novidades – escreveu com confiança.
- Então você se interessa por gastronomia?
- Digamos que sim.
Isso significava ganhar alguns pontos positivos com Patrícia. Pelas experiências que tivera na vida, ela preferia homens com sensibilidade na cozinha. Quase sempre eles a entendiam melhor e é fato que ela praticamente venerava os que chegavam a lhe oferecer pratos requintados por eles mesmos preparados.
- Então eu posso passar na sua casa por volta das nove da noite?
- Combinado. Às nove então – confirmou Clóvis.
No primeiro contato virtual que tiveram, os dois já fizeram questão de marcar um encontro. Ambos não se mostraram como realmente são. Suas fotos ficaram omissas, enquanto as palavras e o mistério de imaginar quem se encontrava por trás daquelas mensagens ditavam o tom daquela conversa.
Clóvis mentiu copiosamente, tomando de exemplo para sua aparência fictícia os modelos másculos, esbeltos e de sorriso reluzente do e-mail que recebera. Patrícia forjou a descrição de sua aparência folheando rapidamente algumas revistas voltadas para o público feminino, recheadas por lindas celebridades de biquíni, exibindo suas boas formas, que se tornavam ainda mais atrativas com o reparo de imperfeições através do Photoshop.
Os dois mentiram. Clóvis mentiu para Patrícia, Patrícia mentiu para Clóvis. Absorvidos pelo próprio escapismo, não se deram conta que também poderiam estar sendo enganados.
Tudo se manteve como dito. Dez minutos para o excepcional encontro. Clóvis terminava de arrumar a mesa da sala, dispor os pratos e os talheres. Jogou pela janela duas rosas murchas que permaneciam num vaso sobre a mesa e as substituiu por falsas – flores de plástico que imitavam margaridas. Checou o cheiro das axilas, o excesso de suor. Mais uma vez, foi ao espelho. Deslizou a mão sobre a velha moldura de madeira do espelho, como se aquilo fosse um amuleto da sorte.
Enquanto isso, Patrícia já havia terminado de se aprontar. Dessa vez, fora mais rápida do que o de costume, porém, mais caprichosa. Em frente a uma pequena penteadeira que, em relação ao seu corpo, parecia ser feita para anões, ela virou o pescoço, jogou o cabelo para o lado e tirou o excesso de batom. Apagou a luz e voltou a ligar para ver que horas eram num relógio fixado muito alto, quase tocando no teto. Os ponteiros mostravam oito e quarenta e cinco da noite, entretanto, aquele relógio estava atrasado. No horário, já passava de nove da noite.
Clóvis, esperando ansioso para abrir a porta e conhecer a linda patrícia que não existia, parecia bastante temeroso. Fechava os olhos e imaginava aquela mulher perfeita, de olhos que pareciam mais esmeraldas, cabelos sedosos, esvoaçantes e vivos, de lábios macios, fartos e sensuais, da pele límpida como o mais alvo leite e tremia-se dos pés à cabeça só de pensar. Principalmente quando pensava sobre o constrangimento da iminente rejeição que ele poderia sofrer por parte dela. Que fosse sorriso, rejeição, e um pedido de desculpas como na conversa anterior àquela situação. Que quando ela o visse, não sentisse náuseas piores do que quando se farta de comida em alto-mar e se vomita a cada oscilação da navegação. Como fazia sempre, Clóvis pensou longe. Imaginou uma cena perturbadora: a campanhinha tocava, ele corria em disparada para atender. Assim que abria a porta, era atingido por um jato multicor, viscoso e ácido, saído direito dos lábios voluptuosos de Patrícia. Ela o olhava por alguns segundos naquela situação grotesca, como quem sente pena, não por aquilo ter ocorrido, mas por alguém, como ele, Clóvis, ter nascido, e vai embora, com o batom intacto. Clóvis, alucinado e agindo como um animal, passa a lamber-se desesperadamente, sorvendo aquele fétido vômito que ensopava toda a sua roupa.
Patrícia percebeu que os ponteiros do relógio não se mexiam mais.
- Maldito relógio! – ela gritou, e foi correndo procurar o de pulso.
Quando chegou à sala, o botão que fechava a calça arrebentou-se e saiu quicando pelo chão escorregadio até esconder-se embaixo do sofá. Patrícia não percebeu e acabou procurando por toda a sala, até mesmo em um quarto contíguo, na esperança de encontrá-lo e pô-lo de volta no seu lugar. Só assim ela poderia conseguir dar um jeito naquela calça, que agora estava escandalosamente aberta. Procurava rastejando, de quatro, com seus seios descomunais quase arrebentando o sutiã e todo o resto de seu corpo morbidamente obeso sofrendo a lei da gravidade. Em pouco tempo, estava exausta, gotejando suor pelo chão. Foi aí que ela lembrou-se da caixinha de costura. Levantou-se, foi ao quarto e a tirou da penteadeira. Mas lá só havia alguns trapos, linhas de costura e agulhas velhas. Patrícia desejava muito usar a calça nessa noite, sobretudo porque a grande maioria de suas roupas já não lhe cabia mais. “Como eu pude não perceber isso, como eu pude?!” repetia para si mesma, a todo o momento. A solução desesperada que ela encontrou era: engolir a barriga.
Patrícia inspirou com a força que podia, até sentir dor nos pulmões. Manteve presa a respiração, e costurou, costurou o mais rápido que pôde o botão daquela calça. Deu voltas e voltas com mais linha para assegurar que aquele constrangimento não lhe aconteceria logo mais. Com a face arroxeada, ela finalmente solta o ar de uma vez e se repreende, no mesmo instante, sendo mais comedida, já que ainda não estava tão convencida sobre a segurança da calça.
Clóvis, já não mais atordoado pelo seu delírio pré-encontro, lúcido e menos nervoso, se encontra bastante indignado. Sente-se humilhado, passado para trás, já que tem a plena certeza de que Patrícia o enganou. Aquela ansiedade toda o matava, o matava a cada segundo. Patrícia não deveria ser tão ingênua assim em achar que encontraria um cara perfeito num bate-papo de internet. Era óbvio que não. Como as outras, ela só desejava mesmo lhe passar a perna, pregar mais uma peça e tirar proveito disso. Deixar o gordinho, esperando em casa. Deixar o gordinho fazendo receitas culinárias de revistas. Deixar o gordinho apreciando aquele banquete e sem poder experimentar um pouquinho sequer. Clóvis deu um soco no ar. Comemorava a bela ideia que acabara de ter. E por que não? E por que não comer aquilo tudo já que a vadia não ia mesmo aparecer. Era o pensamento que lhe seguia, contudo, algo ainda refreava seus instintos. Foi apenas questão de tempo para que esse algo dissesse adeus. Clóvis rendeu-se ao banquete que havia preparado. Não era a melhor coisa que comera na vida, mas, ainda assim, era muito, era quente e descia pela garganta cheio de volume. Em pouco tempo, fartou-se, porque. em pouco tempo não sobrara mais nada. Recostado no sofá da sala e olhando fixamente a mesa revirada, Clóvis parece ter acabado de atingir um orgasmo. Seu prazer é tão imenso e aterrorizante que seus lábios parecem carregar um sorriso, involuntário que se convulsiona por instantes. Naquele momento, ele estava totalmente entregue, desprovido de qualquer força para tirá-lo dali. Certamente iria passar a noite naquele local, estendido no chão, não fosse o toque estridente da campanhinha.
“Meu Deus! Meu Deus!” ele gritou com a mão frente à boca.
Clóvis estava desesperado, descabelado, ensopado. Levantou-se bruscamente quase desfalecendo e correu ao espelho. Na esperança de contornar a situação, ele abotoou como pôde a camisa e tentou corrigir a posição da gravata. Passou rapidamente a mão entre os cabelos e borrifou um perfume velho na nuca, no peito e nos braços. Voltou para sala gritando: “Já vou! Já vou!” e recolheu os pratos e talheres de cima da mesa. Clóvis olhou para porta, respirou fundo e enxugou pela última vez o suor persistente em sua testa. Ainda havia uma esperança. Ainda podia ser um inquilino para reclamar de algo. Ainda, quem sabe, era tempo de ele lidar com o de costume.
- Olá! – ansiosa, Patrícia disse, com a porta por ainda se abrir totalmente.
E Clóvis terminou de abrir a porta.
- Olá! – apenas replicou.
Ela sorriu com uma cara de quem acaba de sofrer uma tremenda frustração.
- Você deve ser a Patrícia – disse Clóvis.
Era claro que sim. Claro que era Patrícia. Só mesmo o pensamento sobre o possível inquilino para fazê-lo perguntar isso.
- Sim, sou eu – e ela perguntou em pensamento: “Você deve ser o Clóvis, certo? Porque não era nada do que eu imaginava”.
O choque ocorrido os deixou perplexos. A surpresa em descobrir a mentira do outro, fez com que a situação incomodasse mais ainda. Clóvis não queria uma gorda. Patrícia não queria um gordo. Por mais que os dois fossem e soubessem como é não fazer parte do padrão de beleza imposto pela sociedade, eles não se viam como gordos. Não carregavam consigo a imagem da qual os outros tinham deles.
Clóvis, mesmo decepcionado, tentando se mostrar gentil, disse:
- Por favor, entre.
- Não – disse Patrícia, com a cara cerrada.
- Mas... – Clóvis balbuciou, enquanto tentou segurar seu braço.
- Eu não posso aceitar o convite de alguém que mente tão descaradamente.
- Eu, eu minto descaradamente?! Primeiro aceite os fatos. Nós dois enganamos um ao outro. Eu só queria alguém que... Alguém que me fizesse feliz, que entendesse meus sentimentos e que gostasse de mim como eu sou por dentro.
Era um clichê. Patrícia já estava cansada de ouvir coisas daquele tipo nas novelas. Mas algo lhe comoveu. Algo com um quê de sinceridade.
- E quem lhe disse que não é esse também meu pensamento?
Foi aí que ela entrou. Deu dois passos e entrou. Sentiu ainda o aroma da comida que Clóvis havia feito e que não mais estava lá. Aproximou-se de Clóvis e largou suas mãos em seus ombros. Os dois entreolharam-se ardentemente. Os joelhos de Clóvis tremiam, mas Patrícia não notou. Ele pensava sobre o quanto ela era feia, mas, mesmo assim, já sentia uma estranha atração unindo seus corpos. De nenhuma parte existiam mais palavras para narrar aquele momento. As bocas se tocaram, os corpos sucumbiram e de olhos fechados, os dois pareciam dançar valsa, pura e sincronizadamente. Sem perceber, já estavam do lado de fora do apartamento. Aquela sensação única de arrebatamento só podia ser classificada como amor. O amor chegou, como que varrendo toda a frustração perante à vida durante anos e anos embora. O amor de peso – não só como força de expressão – vendou-lhes de uma tal forma que não fora possível ver a escada nem segurar em seu corrimão. Patrícia embaixo, Clóvis em cima. Isso teria duplo sentido, não fosse o momento tão sublime. Olhos vidrados, de morto. Um fiapinho de sangue e saliva escorrendo pelo canto da boca. Praticamente estranhos, e agora, ligados eternamente. Seriam descobertos amanhã quando o faxineiro levasse seu esfregão até ali.